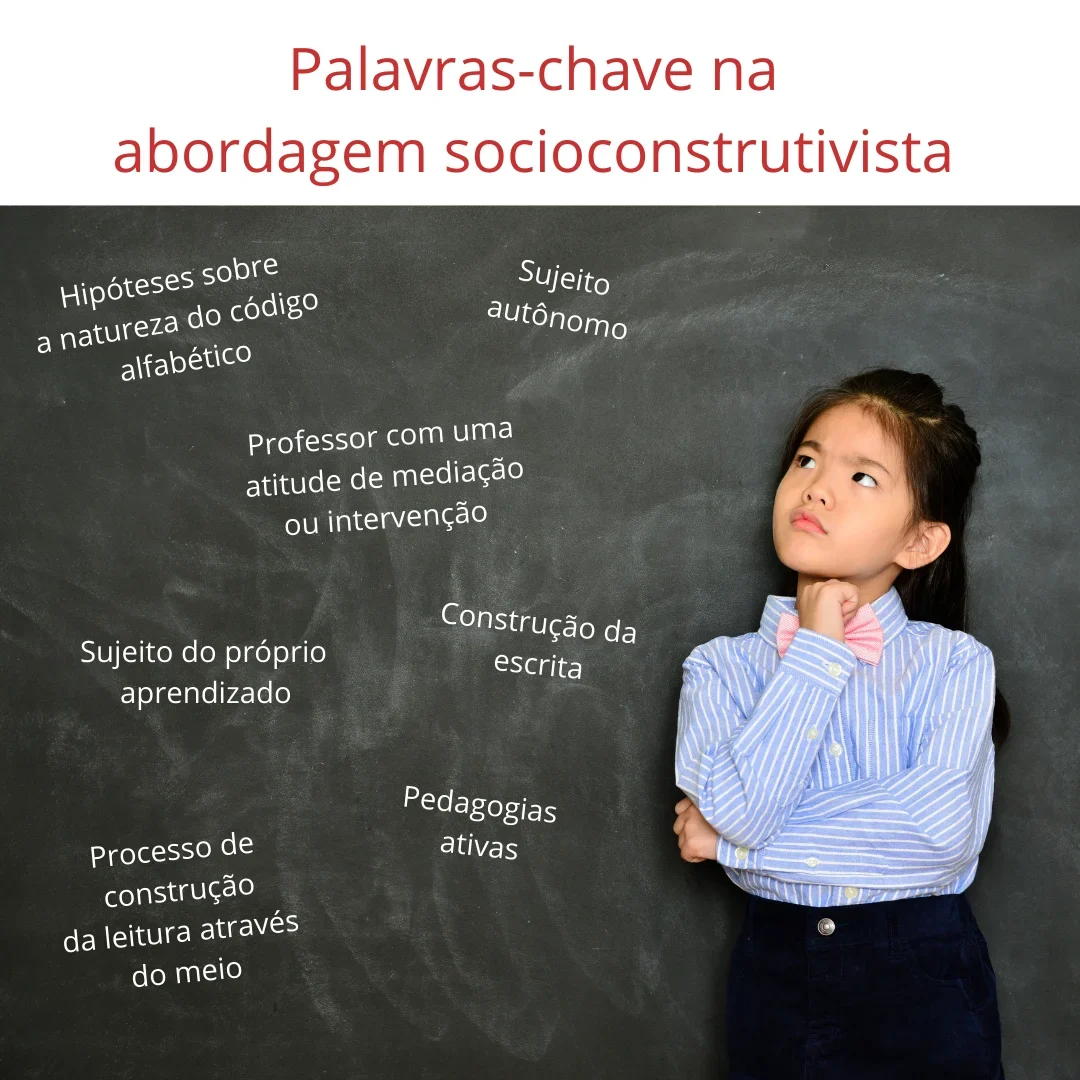Socioconstrutivismo na alfabetização
“A falácia socioconstrutivista - por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever” é o título do livro da professora Kátia Simone Benedetti que retrata de maneira ampla a situação da educação brasileira diante da abordagem ...
“A falácia socioconstrutivista - por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever” é o título do livro da professora Kátia Simone Benedetti que retrata de maneira ampla a situação da educação brasileira diante da abordagem socioconstrutivista. | ||
O socioconstrutivismo como temos hoje é decorrente da aglutinação dos processos de adaptação das teorias psicológicas de Piaget e Vygotsky para a área educacional. Inicialmente as contribuições dos autores discorriam sobre o desenvolvimento humano no campo da psicologia mas a educação se apropriou de suas conclusões. A partir do construtivismo de Piaget que se referia a perspectiva de maturação biológica e hereditária do indivíduo e do marxismo dialético de Vygotsky, que coloca a linguagem e os conhecimentos historicamente construídos no centro do processo de desenvolvimento do psiquismo humano. O autor defendia que o desenvolvimento das habilidades cognitivas humanas seria resultado das relações do individuo com o meio, mediados pela linguagem. No entanto, com o avanço dos anos já se refutou a ideia de que a linguagem que engendra o psiquismo humano, mas exatamente o oposto: é a natureza do pensamento que configura a natureza da linguagem. Foi a linguagem que se desenvolveu a partir das características intrínsecas do pensamento humano e não o contrário. O socioconstrutivismo portanto, não é um método, é uma teoria ou uma abordagem pedagógica. Piaget e Vygotsky fundamentavam as teorias do desenvolvimento cognitivo na perspectiva interacionista e consideraram a interação indivíduo-meio e a mediação desse processo como fundamentais para o desenvolvimento cognitivo (Benedetti, 2020). | ||
Diante desse contexto a abordagem socioconstrutivista
coloca o aluno na posição de próprio aprendiz a partir da sua interação com o
meio e que o professor deve adotar uma atitude de intervenção ou mediação a
partir das hipóteses levantadas pela criança. Assim, os métodos necessários
para avançar na aprendizagem são desqualificados e as reflexões sobre a língua
devem ser espontâneas e ocorrerem de maneira natural como parte do
desenvolvimento cognitivo da criança. Nesse ponto que a abordagem
socioconstrutivista foi incorporada ao método de alfabetização global,
amplamente disseminado e defendido no Brasil. Nesse método de alfabetização
considera-se a leitura como acesso direto ao significado, ou seja, utiliza-se
textos e contextos para a criança aprender a ler. Na concepção
socioconstrutivista na alfabetização a leitura seria algo natural, inato,
decorrente do simples contato da criança com a oralidade, premissa já refutada
nas últimas décadas sobre a aquisição da leitura. Na qual não é natural e
conforme explorei no artigo 6 do clube de assinatura. Diante disso defender uma
abordagem socioconstrutivista é ignorar as evidências sobre a ciência da
leitura e limitar a oportunidade de todas as crianças aprenderem a ler. Uma vez
que crianças com melhores níveis sociais e econômicos possuem melhor
desenvolvimento da linguagem oral e assim conseguem levantar um maior número de
hipóteses sobre a linguagem autonomamente. No entanto, as crianças
desfavorecidas socioeconomicamente se tornam ainda mais vulneráveis e com
hipóteses sobre a linguagem mais limitadas. Associado a isso tem-se a teoria de
Byrne (2005), que divide as crianças em duas categorias: i) crianças
dependente-do-aprendiz (alto capital cultural letrado) têm níveis mais altos de
conhecimentos, habilidades e experiências relacionadas à leitura, promovidas
principalmente em um ambiente rico de literacia familiar e, ii) crianças
dependentes-do-meio (baixo capital cultural letrado) com níveis mais baixos de
desenvolvimento da linguagem oral. Sobretudo nesse segundo caso, a instrução
direta e explícita sobre a língua é o caminho que deve ser percorrido para
alcançar a leitura e escrita. Em um trabalho complementar, Connor e
colaboradores (2004; 2009) evidenciaram a importância da adequação dos métodos
de alfabetização considerando as características dos alunos, se possuem alto ou
baixo capital cultural letrado. Os autores ressaltarem que a abordagem
socioconstrutivista é inadequada sobretudo para crianças com baixo capital
cultural letrado e que quando a abordagem explícita, com a utilização de
métodos sintéticos de alfabetização é utilizada ambas categorias de alunos
foram beneficiados. Partindo dessas evidências considerar que a abordagem
socioconstrutivista é adequada em um país desigual como o Brasil, onde a
maioria das crianças tendem a se encaixar na categoria de crianças
dependentes-do-meio é um erro e tem contribuído para as dificuldades de leitura
e escrita que as crianças carregam durante os anos escolares. A abordagem
socioconstrutivista não é um método porém o método global assume uma abordagem
socioconstrutivista. Visto que no Brasil, a influência da obra de Emília
Ferreiro e Ana Teberosky - Psicogênese da língua escrita (1999) é predominante
e as autoras defendem que a aquisição da leitura se dá como um processo
dialético no qual o aprendiz enfrente as contradições que surgem do contato com
o objeto de conhecimento (leitura-escrita), sendo estimulado a elaborar
hipóteses sobre o funcionamento desse objeto dada através da inserção em um
ambiente letrado. No entanto as hipóteses ocorreriam sem o domínio do princípio
alfabético (Benedetti, 2020). Nesse ponto se encontram a abordagem
socioconstrutivista e o método de alfabetização global, implementado
massivamente no Brasil a partir da teoria da psicogênese da língua escrita, a
partir de uma concepção de que a aprendizagem da leitura e da escrita é um
desenvolvimento cognitivo natural do indíviduo. | ||
E ao contrário do que afirmam os socioconstrutivistas, estudos cognitivos experimentais têm evidenciado, cada vez mais, que as dificuldades de leitura e escrita são minimizados pela intervenção fônica e que esses efeitos positivos são permanentes (Capovilla & Capovilla, 200). Assim como as evidências apontam que a utilização das relações letra-som para identificar palavras desconhecidas é o mecanismo básico para a aquisição de representações ortográficas das palavras e que é esse processo que fornece a base para a construção de representações ortográficas minuciosas e que são necessárias para o reconhecimento automático da leitura (EHRI, 2005). | ||
Nesse ponto convém ressaltar que a abordagem socioconstrutivista se opõem a um método, mesmo que esse método seja comprovadamente associado ao sucesso de aquisição da leitura-escrita e substitui a instrução explícita e sistemática, do mais simples ao mais complexo por práticas pedagógicas isoladas, estratégias didáticas desconectadas que não fornecem para a criança um caminho seguro para avançar na alfabetização. A abordagem socioconstrutivista é crítica ao método justificando-se no fato de que o processo intrínseco de desenvolvimento cognitivo da criança não deve ser acelerado ou condicionado por nenhum tipo de intervenção externa como a oferecida pelos métodos e que anulam o papel ativo do aprendiz na construção do seu próprio conhecimento. Benedetti (2020) cita que o presidente do instituto Alfa e Beto evidenciou que a insistência em se manter métodos globais de alfabetização é fruto da hegemonia socioconstrutivista na área pedagógica. O método fônico destacado anteriormente, não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para se chegar a alfabetização. Uma vez que evidências já apontaram que todas as crianças precisam aprender a mesma coisa (Dehaene, 2011; Seidenberg, 2017) e que decodificação fonológica das palavras é a etapa chave da leitura (Seabra e Capovilla, 2011), não há motivo para não se ensinar e esperar que a criança alcance, ou nunca alcance, essa conclusão sozinha. | ||
Nisso tudo, vemos que a ciência da leitura é completamente ignorada, porque ela já refutou todas as premissas sobre a aquisição da leitura-escrita e adota-se majoritariamente uma abordagem socioconstrutivista, que coloca a conquista da leitura-escrita como um resultado da interação entre o meio e o indivíduo. | ||
Diante disso, como a família pode identificar que a criança está exposta a uma abordagem socioconstrutivista e que não prioriza o ensino explícito? | ||
No vídeo da live “A falácia socioconstrutivista”, a professora Katia Simone, argumenta que a abordagem socioconstrutivista permeia toda educação brasileira, uma vez que é ela quem rege a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Portanto, todas as escolas estão, em maior ou menor escala, influenciadas pela abordagem socioconstrutivista. Como família e sem conhecimento específico sobre educação o que deve chamar a atenção dos pais? Primeiramente se a escola reluta, ou simplesmente, não souber informar o método de alfabetização adotado isso já seria um motivo de alerta. Há ainda palavras-chave que não faltam em uma abordagem socioconstrutivista e elas estão disponíveis na figura 1. | ||
Nessa abordagem além da ausência de método explícito há ainda um agravante, a figura do professor com uma atitude de mediação ou intervenção por meio de questionamentos e reflexões que estimulem a ação autônoma da criança - a prática docente não ocorre através de um ensino diretivo, explícito e com a transmissão do saber entre o professor e o aluno, com informações diretas e que norteiam a aquisição da leitura-escrita. Diante disso, o professor não é aquele que ensina mas um mediador do processo ensino - aprendizagem. | ||
Diante desses termos e as devidas refutações a essa abordagem expostas nesse artigo, os pais podem se sentir seguros para buscar soluções adequadas para cada família seja pela conversa com a escola, lembrando que a escola recebe o direito de educar formalmente as crianças mediante aprovação dos pais, portanto os pais que são os protagonistas dessa educação. Uma conversa com a coordenação pedagógica da escola pode ser possível e se preciso, uma conversa com a secretária municipal de educação. Devemos lembrar que mudar uma abordagem enraizada na educação não é fácil e muito menos rápida, mas quanto mais as famílias se posicionarem através das informações que possuem, maior a chance de alguma mudança ocorrer. | ||
Além disso, o papel da família na educação é essencial, mas isso não preciso dizer para vocês nesse artigo, pois é exatamente o que fazem. O papel da literacia familiar nos primeiros anos de vida fornece um alto capital cultural letrado, conforme exposto no início desse texto, mas isso não precisa se encerrar quando a criança vai para escola. Idealmente isso deve permanecer por toda vida escolar da criança, seja pelo apoio direto dos pais ou buscando alternativas que reforcem a educação que os filhos recebem da escola. Outro ponto é não esperar o desenvolvimento natural da criança, isso não ocorrerá sem a devida instrução. Se há alguma dificuldade ou desconfiança procure ajuda adequada para garantir o sucesso da aprendizagem, pois todas as crianças são capazes de aprender, o papel da escola e dos pais é desenvolver as habilidades corretas para a aprendizagem. | ||
| ||
Se as escolas brasileiras estão enraizadas na abordagem socioconstrutivista, o que as professores que a questionam podem fazer? | ||
Importante ressaltar que por ser uma abordagem hegemônica e respaldada pela BNCC os professores alfabetizadores estão condicionados a isso. No entanto, agora você já sabe da importância do ensino explícito, sistemático e bem instruído. Diante disso: o que fazer? | ||
Ainda que em condições limitadas o professor deve buscar o ensino explícito pois é através dele e da sua sistematização que a criança aprenderá. Assim como a participação da família é essencial para isso dar certo, portanto, aproxime os pais dos alunos, envolva-os e fornece a eles informações valiosas sobre como praticar a literacia familiar em casa. | ||
Ressaltei diversos argumentos nesse texto e no artigo 6 do clube, municie-se desses argumentos e sinta-se seguro para aplicar. Os resultados sempre vêm diante de um trabalho contínuo, persistente e sistematizado. Infelizmente no cenário atual o professor precisa ter coragem para fazer o certo. Tenho confiança que os resultados que virão serão capazes de contagiar com o exemplo. Escrevo isso com o coração na mão diretamente para o coração de quem é professora alfabetizadora: conta comigo nesse desafio. Os olhares perdidos de crianças que não sabem o que fazer no momento da leitura serão trocados por olhares de crianças felizes com as suas habilidades desenvolvidas e capazes de ler e se comunicar através da escrita. | ||
Sobre tudo isso que escrevi aqui, falamos, eu e professora Katia Simone na live que dessa vez ficou gravada no meu IGTV. Decidi deixar essa live gravada dada a importância do tema. Quem sabe assim alcançamos outras pessoas e algumas mudanças comecem a ocorrer. Se possível, ajude a divulgar a live. | ||
Espero que o texto de hoje tenha sido útil e até a próxima semana, | ||
Grande abraço | ||
Mariane | ||
Referências | ||
K. S., Benedetti. 2020. A falácia socioconstrutitivista. Kirion | ||
B. Byrne. 2005. Theories of learning to read. In: SNOWLING, M.J.; HULME, C. (Ed.) The science of reading: a handbook. Oxford: Blackwell, p. 104-119. | ||
A.S. Capovilla; F. C., Seabra 2000. Efeitos do treino de consciência fonológica em crianças com baixo nível sócio-econômico. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2000, vol.13, n.1, pp.07-24. ISSN 1678-7153. | ||
C. M., Connor; F. J., MORRISON; L. E. KATCH. 2004. Beyond the reading wars: exploring the effect of child-instruction interactions on growth in early reading. Scientific Studies of Reading, v. 8, p. 305-336. | ||
C. M., Connor. Et al. 2009. Individualizing student instruction precisely: effects of child x instruction interactions on first graders’ literacy development. Child Development, v. 80, p. 77-100. | ||
S. Dehaene, 2011. Os neurônios da leitura. | ||
E. Ferreiro; A. Teberosky. 1999. Psicogênese da língua escrita. Penso. | ||
M. R., Maluf; C. Cardoso-Martins. 2013. Alfabetização no século XXI: Como se aprende a ler e a escrever. Penso. | ||
Seabra, A.; Capovilla, F. 2011. Problemas de leitura e escrita. Memnom. | ||
M. Seidenberg, 2017. Language at the Speed of Sight: How We Read, Why So Many Can't, and What Can Be Done About It. Basic Books; Reprint edição (6 março 2018). |